.jpg)
Era uma estátua.
Não se sabia ao certo quando ali ela fora parar. Não havia qualquer registro nem os mais velhos se lembravam. A placa inaugural, que poderia oferecer alguma pista, esta não mais existia. Alguém a arrancou ou foi removida pela ação do tempo.
O que parecia de certa forma claro é que se tratava de algo muitíssimo antigo, coisa dos seus noventa ou cem anos, ou até mais. Informações vagas davam conta ter sido um padre amante das letras o responsável pelo feito – e isso era tudo que se sabia.
Ficava em uma das áreas mais privilegiadas da cidade, ao lado do velho chafariz e cercada dos mais belos e frondosos mangueirais. Ali repousava calma e serena, em contato com as flores e com o canto da passarada.
Nas quadras difíceis da seca, a comuna inteira acorria ao local em busca do precioso líquido, sendo todos recepcionados pelo morador ilustre, ele que se postava com o tórax ereto e uma das mãos erguida para o alto, como se estivesse o tempo todo a declamar.
Eu amava aquela estátua! Tinha-a quase por minha.
Quando a descobri – me lembro como se fosse hoje –, passei a amá-la de imediato. Amor à primeira vista – diria até. Não me contive, e passei a visitá-la quase que diuturnamente, fazendo daquilo uma rotina boa, uma rotina prazerosa, eivada do mais puro sentimento.
Eu via naquela estátua algo de superior, muito mais do que um bloco de bronze, muito mais do que um monumento qualquer. Eu via naquela estátua uma pessoa, uma alma, um mistério. Eu via naquela estátua o próprio poeta, eternizado no metal, já que não pudera eternizar-se na carne.
Eu era menino e não entendia direito – como não entendo direito até hoje – o motivo de tamanho encanto e isso era maravilhoso.
Tardes inteiras ficava eu sentado aos seus pés, em silêncio, apenas pelo prazer de ali estar. Não pensava nada, não dizia nada. Apenas sentia... sentia... E ao sentir, sentia-me pleno, eterno, gigante, como o próprio poeta.
Alguma coisa de mágico – mágico e inesgotável –, operava naquele ambiente povoado de aromas e sabores, naquele recanto onde a música dos pássaros era ao mesmo tempo um alimento e uma prece.
Estar ali, no desfrute da companhia do poeta, era mais que um deleite, era pura epifania.
O que eu não era capaz de imaginar é que tal sonho, mais cedo ou mais tarde, pudesse transformar-se em pesadelo.
Mas foi o que aconteceu.
Com a palavra os abutres da especulação imobiliária, “ricos de dinheiro e pobres de espírito”, como diz certo filósofo do povo.
O negócio é o seguinte: um empresário do setor varejista, no afã desenfreado de ampliar mais e mais suas tramoias, arrematou aquela área e a transformou em condomínio de luxo, destruindo assim décadas inteiras de ricas e gostosas memórias.
De posse do imóvel, dito sujeito logo poria em prática sua sanha deletéria, mandando homens e máquinas removerem tudo que achassem pela frente, não deixando em pé absolutamente nada.
E assim, o que antes fora um templo de poesia, era agora uma massa gigantesca de ferro e cimento, refúgio de um ou outro bacana com mania de gente rica.
A cidade assistiu aquilo com indiferença e frieza, e as poucas vozes que se levantaram não conseguiram ser ouvidas – tamanha a euforia em que todos estavam mergulhados, frente à perspectiva do progresso que se anunciava iminente.
E quanto ao poeta – o bom e admirável poeta –, este foi visto na capital do estado, numa casa de fundição, onde seria desmanchado e certamente transformado em outra coisa.
José Gonçalves do Nascimento -Escritor
Espaço Leitor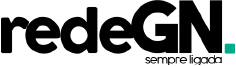

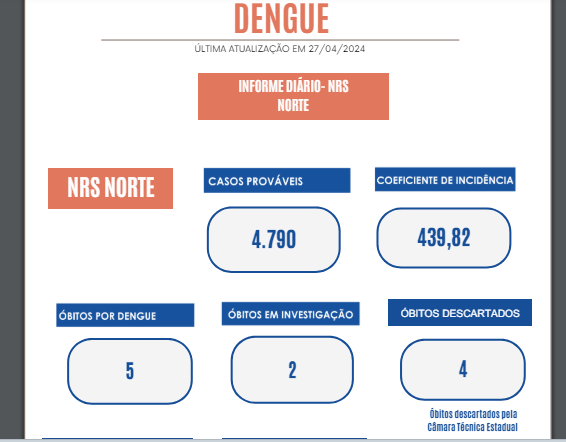













0 comentários