.jpg)
Os eventos de 8 de janeiro, em Brasília, despertaram, em alguns, a preocupação da possível aplicação de punição aos participantes com a perda do emprego por justa causa, considerando o tamanho das ofensas morais e materiais ao patrimônio nacional, com cenas repugnantes e que jamais deveriam figurar na história política do Brasil.
As autoridades públicas já estão cuidando das penalidades para aqueles que são servidores públicos ou militares, flagrados na depredação.
Todavia, as discussões em torno da penalidade possível, para aqueles com vínculo na atividade privada, remetem à consideração da consistência da perda a que estarão submetidos e, efetivamente, a capacidade de suportar um prejuízo relevante. Talvez, um dia saberemos do perfil dos participantes e acampados, em especial, para objeto de estudo, quantos possuíam vínculo de emprego e entre os que tinham CTPS assinada, qual o tempo de serviço no último emprego e qual salário recebiam. De tudo que se viu, parece que não tinham muito a perder. Agiram como se não houvesse amanhã.
É inconteste que há muito tempo a legislação trabalhista se afastou de um modelo capaz de trazer ao cidadão, que tem um emprego, expectativas duradouras e que possam dar a oportunidade de construir um futuro. As exceções são raras. O emprego com descarte barato parece ser a tônica do desprezo recíproco, e o emprego sem criar raiz acaba gerando a percepção de exclusão e não pertencimento a qualquer tipo de grupo capaz de fazer a diferença na sociedade.
A valorização do emprego e suas garantias, para que a sociedade possa pensar na construção de um futuro melhor, deveriam ser objeto de pauta nas mudanças da legislação trabalhista.
A Constituição Federal de 1988 deixou uma lacuna que o Legislativo não conseguiu ainda resolver. Com efeito, a Carta trouxe como única forma de garantia de reparação do tempo trabalhado pelos empregados o FGTS e excluiu de uma vez por todas a antiga indenização pelo tempo de serviço previsto na CLT. O FGTS transformou-se em verba de natureza trabalhista, crédito ao qual se aplica a prescrição quinquenal em detrimento da trintenária prevista na Lei nº 8.036/1990.
O artigo 7º, em seu inciso I, prevê, como princípio, que a relação de emprego seria protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, com a previsão de que norma complementar viria a estabelecer o indenização correspondente. A norma complementar, como era de esperar, não veio e, portanto, em caso de rescisão contratual não há indenização legal que seja aplicada e que venha reparar o tempo de serviço.
Dito isto, a discussão sobre a apreciação, pelo STF, da inconstitucionalidade (ADI 1.625) do Decreto nº 2.100 de 1996, editado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que cancelou a aplicação da Convenção 158 da OIT, traz preocupações porque, à época, utilizou-se da lei do FGTS para justificar sua inaplicabilidade, considerando que a lei nacional já previa um procedimento e uma forma de reparação da perda de emprego.
Ocorre, todavia, que o conceito do FGTS se alterou e passou a ser considerado crédito trabalhista e não verba de natureza indenizatória, deixando in albis a previsão de indenização pelo tempo de serviço. Desta feita, a análise do Decreto 2.100, no seu tempo, parece prevalecer relativamente ao conteúdo de adequação da lei trabalhista nacional aos termos da Convenção 158.
Outra situação, entretanto, seria a análise da Convenção e seus termos nos dias atuais em que o emprego se revela com pouca aderência de seu significado interno nas empresas, tendo, na maioria das situações, perdido seu valor e sua capacidade de gerar esperanças que ultrapassem o período de aviso prévio.
Portanto, fica a reflexão de que não parece fora de propósito a preocupação dos rumos que poderão ser tomados pela decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade do Decreto 2.100 de 1996 e de que forma se daria a aplicação da Convenção 158 da OIT, nas relações de emprego, diante da inoperância do Legislativo na elaboração e aprovação da norma complementar de que trata o artigo 7º, I, da Constituição Federal.
Paulo Sergio João é advogado e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
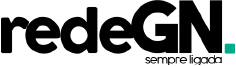











0 comentários