
As eleições de 2022 foram históricas. Se não fosse de mau gosto, poderíamos dizer que o terceiro mandato de Lula tem um caráter mítico. O sentido global que emerge das congratulações dos líderes estrangeiros é um indicador do papel que o Brasil pode ter para o futuro da humanidade, seja pela reversão do desmatamento da Amazônia, seja pela contribuição de seu histórico de negociador para a emergência climática e para a segurança alimentar. No plano nacional, a formação da frente ampla no segundo turno garantiu o pacto pela democracia, regime político em que os governantes respondem pelo que fazem e regime social que nos humaniza, com o respeito a direitos e a solidariedade como guia, para a eliminação da fome como medida mais urgente.
É verdade que sai das urnas um país dividido. Mas a aritmética dos insatisfeitos não é estática e parte deles pode ser integrada com uma ação de pacificação política pelo governo. O preocupante é que outra parte deve permanecer não como oposição – o que é saudável e necessário – mas como núcleo de resistência antidemocrática.
Há uma divisão histórica nos mapas eleitorais pós-1988 em dois blocos dominantes; a terceira via nunca passou dos vinte por cento. Mas, a partir de 2018, a eleição de um presidente autoritário e violento inicia um processo de degradação da democracia sem precedentes. Isso foi contido, em parte, pelas instituições, como no caso da derrota do voto impresso pelo Congresso e da Escola sem Partido, pela Justiça. A própria invocação de fechamento do STF pelo bolsonarismo evidencia o quanto foram efetivos os freios e contrapesos. De outro lado, o abuso da máquina pública em favor da candidatura governista, estimado em R$ 68 bilhões pelo jornal Valor, é uma demonstração dos limites desses mecanismos.
Num movimento inédito no Brasil, fermentado na cultura da antidemocracia, o resultado é desafiado nos dias que se seguem à eleição. Os bloqueios de estradas são condenados pela justiça, mas os bolsonaristas descumprem a ordem, sob a cumplicidade de uma Polícia Rodoviária Federal (PRF) partidarizada. Em vista disso, alguns eleitores lulistas entenderam ser caso de liberar as vias pela força popular; depois da eleição não há mais por que suportar os acintes impostos pelo candidato derrotado e sua trupe. Em boa hora, desistiram.
Não podemos, em nome de fins corretos, desprezar a institucionalidade democrática e repetir, com sinal trocado (mesmo em menor grau), o erro que criticamos. A desobediência civil, que se justificou ao longo da história em situações excepcionais, quando o Estado está capturado para atuar contra os direitos da população, não pode ser banalizada; ela só cabe quando a sobrevivência está em perigo. Não por acaso, essa é a ideia subjacente ao léxico revolucionário do golpismo bolsonarista.
Na democracia, a prerrogativa de tomar decisões em nome coletivo é condicionada ao respeito à lei. O presidente não é dono dos meios da política, não governa para o seu grupo; governa para todos, incluindo os que não o elegeram. Esse princípio se combina com a alternância política; quem hoje é oposição amanhã pode ser governo. Por isso o respeito recíproco é condição de funcionamento da democracia. O descumprimento das regras por um lado não pode justificar a quebra pelo outro.
O funcionamento regular da justiça e da polícia, segundo a lei, é conquista civilizatória, o “monopólio do uso legítimo da violência” pelo Estado, de que falava Max Weber. A contestação da institucionalidade é estratégia que só interessa ao bolsonarismo neste momento.
O desafio é exatamente recuperar a institucionalidade democrática. Aqui não pode haver “pacificação”, mas deve ser tomada como medida prioritária a responsabilização rigorosa, que alcance não apenas os que usam a PRF como aparelho partidário, mas também o dirigente maior que patrocinou essa afronta.
Maria Paula Dallari Bucci, professora da Faculdade de Direito (FD) da USP
Espaço Leitor
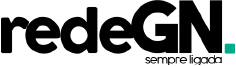











3 comentários
05 de Nov / 2022 às 23h53
Só é democrático quando é de esquerda, violento é o ladrão de nove dedos
06 de Nov / 2022 às 05h58
O mais importante para o país hoje é que a eleição passou e todos precisam descer dos palanques. É tão necessária que os perdedores aceitem a derrota quanto os vencedores esquecerem o que foi feito pelos derrotados. Precisa-se cumprir com as promessas e deixar de colocar culpa no antecessor, afinal na campanha surgiam as propostas. Agora deverão vir as respostas. E todos sabiam que o cenário hoje era bem diferente de 2002. Agora é com você, Lula.
06 de Nov / 2022 às 17h09
Só observando,o país seguirá mais dividido do que nunca.