
Reportagem da Caravana Nordeste Potência relata experiências de três diferentes etnias indígenas que habitam territórios do Velho Chico que buscam aliar saberes ancestrais a novas práticas para continuar vivendo e produzindo em harmonia com a natureza. A Caravana teve como objetivo divulgar o Plano Nordeste Potência, resultado de uma coalizão de quatro organizações civis brasileiras: Centro Brasil no Clima (CBC), Fundo Casa Socioambiental, Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá) e Instituto ClimaInfo, com apoio do Instituto Clima e Sociedade (iCS).
Confira:
O processo colonial que deu origem ao atual município de Porto Real do Colégio (AL) remonta a meados do século XVII. Diferentes povos indígenas, Tupinambá, Caeté, Carapota, Acorane ou Aconã e Kariri habitavam a região antes da chegada de bandeirantes e jesuítas pelo “Grande Rio”, vindos da Bahia. O nome do município se originou do colégio dos jesuítas que tinha o nome de “Real”.
Atualmente, na Aldeia Indígena Kariri-Xocó, 1.300 famílias vivem numa terra de 664 hectares que margeia o Rio São Francisco e está em processo de homologação. Segundo o cacique Cícero Suíra, ainda falta a valoração das fazendas ali existentes para indenização. Da área total, 10 hectares são reservados ao ritual sagrado do Ouricuri, de 15 em 15 dias, do qual só indígenas participam. Ainda assim, a Caravana Nordeste Potência obteve uma autorização especial do pajé Júlio para visitar este território sagrado e conhecer um pouco sobre suas práticas ancestrais.
As construções eram inicialmente de palha, conta o cacique. Mas não indígenas tocavam fogo em terras adjacentes e elas acabaram queimando. Daí foram reconstruídas com tijolos. Para o ritual eles precisam de três dias de purificação, sem álcool, sexo e tomando banho com determinadas plantas. Cícero Suruí nos conta que, uma vez por ano, no mês de janeiro, eles passam 15 dias no território, que tem capacidade para abrigar cerca de 4 mil pessoas e, nesta ocasião, recebem visitantes de outros povos indígenas, chegando a 7 mil pessoas. Neste território foi feito um trabalho para a regeneração da vegetação nativa com o reforço de um viveiro para reflorestamento com espécies endêmicas.
Considera este conteúdo relevante? Apoie a Eco Nordeste e fortaleça o jornalismo de soluções independente e colaborativo!
“A floresta, as nascentes e o Rio São Francisco são muito importantes para nós indígenas. Nós chamamos o Rio de Opará, que significa Rio-Mar. Mas eu não vejo os governantes fazerem nada por ele. Só desviaram, tiraram, destruíram. Se ele acabar nós acabamos também”, declara.
Um trabalho de destaque entre dos Kariri-Xocó vem sendo realizado por Idiane Crudzá. Aos 35, ela conta que teve cinco filhos e que precisou parar os estudos formais na 6ª série. Mas vem trabalhando na retomada da língua Dzubukuá Kariri Kipea, que ficou adormecida por mais de 100 anos. Utilizado só em segredo, no ritual sagrado, o idioma já está representado em memorial em Brasília.
Por seu trabalho, atualmente Idiane é a segunda representante das línguas indígenas no Nordeste. Ela criou, há cinco anos, um espaço, uma escola, denominada Swbatkerá Dzidé Ayby Arãkié Yndiany Nayly KX, em homenagem a um ancestral. Presencial para crianças, com 71 alunos, e on-line para adultos, com 160 alunos de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão e Paraíba.
“Quando falamos a nossa língua, voltamos às raízes. Nossa fortaleza é nossa língua. Não é só um idioma, é uma identidade ancestral, cultural, espiritual. Por meio dela podemos nos conectar com a natureza, com a espiritualidade de nossos ancestrais. É completa e não podemos falar dela sem falar da medicina, do artesanato, dos cantos e da dança. Tudo que abrange a nossa ancestralidade está dentro da nossa língua. Quanto mais nós fortalecermos a nossa língua, mais conhecimento nós teremos”, declara a indígena.
Um grupo, liderado por Idiane trabalha no fortalecimento das tradições. Parte deles recepcionou a Caravana com o Toré, uma dança ritual realizada por diversos povos indígenas, inclusive os tradicionais da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. É considerado o símbolo maior de resistência e de união entre esses povos e uma das principais tradições dos indígenas do Nordeste brasileiro e de Minas Gerais.
EM HARMONIA COM A NATUREZA: A 54 km de Porto Real do Colégio fica Feira Grande, também em Alagoas. Na comunidade Olho D´Água do Meio, vivem 170 famílias indígenas e a Associação de Jovens Produtores Indígenas Tingui-Botó, criada há quatro anos que vem promovendo uma diversificação produtiva que procura manter um cultivo agroecológico aliada à recuperação florestal. Farinha de mandioca, inhame, batata e milho estão entre os alimentos que são direcionados ao próprio consumo da comunidade.
A criação da Associação, que já conta com 30 jovens, visa o fortalecimento da juventude indígena Tingui-Botó, que vem ocupando vários espaços em busca de melhorias que respeitem as regras e saberes da comunidade. Segundo o presidente da Associação, Eré Batista, 25, os jovens já participam de diversos conselhos. “Nossa função é manter o conhecimento tradicional e passar de geração em geração. Aqui não pensamos em retorno econômico. O objetivo é preservar e se manter”, afirma Eré.
Ele explica que o território indígena conta com 540 hectares demarcados, dos quais 90% são de vegetação nativa com nascentes que contribuem para o São Francisco. Apenas 10% são cultivados. O trabalho de reflorestamento sempre existiu, mas, com o auxílio do Fundo Casa Socioambiental, construíram um viveiro de plantas nativas e estão para construir uma casa de sementes.
Maquisuel Soares da Silva, 31, que cuida do viveiro de mudas, detalha múltiplos usos das plantas nativas, como o jenipapo e o urucum para produção de tinta e o ouricuri para colírio. “Aqui nós misturamos as espécies para evitar as pragas”, revela.
Eles também estão trabalhando a valorização da cultura por meio do artesanato, principalmente de palha do coqueiro licuri, dente de porco, madeira, pena e sementes, colhidas e trocadas com outros povos. Mas Eré Batista destaca que ainda falta incentivo à produção e um local onde expor.
Eré, que é formado em Licenciatura Intercultural Indígena, recebeu a Caravana Nordeste Potência embaixo de um pé de cajarana, símbolo de grande honra e poder do Povo Tingui-Botó que funciona como uma pequena praça onde eles costumam se reunir. Ele destaca que os povos ancestrais costumam ter uma relação diferente com a Mãe Terra: “Nós só existimos por causa da natureza. A nossa terra é produtiva, mas precisamos de incentivo”. E recita uma frese de inspiração: “A natureza é nosso guia; o cocar é nossa proteção; o arco e flecha é nossa arma; o som do maracá e o Toré, nosso grito de resistência”.
Sobre o projeto de reflorestamento, ele acrescenta: “é de fortalecimento da natureza. Em nosso ritual sagrado, precisamos estar em conexão com a natureza e esse projeto foi um incentivo para que a gente possa reflorestar as áreas degradadas porque toda área foi de fazendeiro e tinha uma degradação muito grande para plantio de pasto. Com o incentivo desse projeto também vamos plantar uma horta toda orgânica. O projeto é uma semente plantada dentro da comunidade que gerará muito fruto”.
ENERGIA DO SOL NA ALDEIA: Distante 236 km de Feira Grande (AL), está Jatobá (PE), onde localiza-se uma das aldeias do Povo Pankararu na região, território demarcado nos anos 1940 que só em 2018 foi desapropriado. O vice-cacique Sarapó Pankararu, que é coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme), conta que foi um processo doloroso para todas as partes que, aos poucos, vão reconstruindo suas histórias. O território é de aproximadamente 8.100 hectares, onde vivem cerca de sete mil indígenas.
“O nosso povo teve várias lutas. Essa última, pela conquista do nosso território, iniciou em 1940 com a primeira demarcação das nossas terras. Não conseguimos regularizar totalmente porque tinha posseiros, 1.300 famílias de não indígenas. Só em 2018 conseguimos aqui no município de Jatobá. Mas a nossa terra está entre Jatobá, Petrolândia e Tacaratu. Depois de 78 anos de luta, de várias gerações que fizeram esse enfrentamento, conquistamos parte do nosso território. Hoje estamos aqui tentando fazer o nosso plantio, criar, seguir a nossa vida, preservar a natureza porque pegamos um local de terra frágil, desmatado”, relata.
Ele também enumera outros impactos ao longo do tempo, como a perda de espaços sagrados, de acesso ao rio, redução na variedade de peixes, muitos extintos por não conseguirem seguir o curso natural: “Nós somos um povo da beira do rio, que vivia do rio. Nossas práticas eram na beira do rio. Perdemos o acesso ao rio pela construção da usina hidrelétrica na nossa cachoeira, fomos expulsos de lá e tivemos que vir para as serras. Hoje, para ter acesso ao rio e à pesca, temos que pedir licença. A beira do rio todinha foi loteada e não tem nenhum indígena que tenha um lote de terra lá. Tem uma comunidade aqui que está lutando para ver se se tem um espaço. Estão morando lá agora, mas na briga, na luta. Fora o São Francisco, tem o Moxotó. Vamos pescar lá, mas todo o rio tem dono”.
Alexandre Pankararu, assessor de Comunicação da Apoinme, reafirma que o Povo Pankararu já vem sofrendo grandes impactos com grandes empreendimentos desde os anos 1980 para produção de energia hídrica que também é uma energia renovável por ser produzida pela água, com a construção da Usina de Itaparica, depois renomeada Luiz Gonzaga, localizada em Petrolândia, na divisa com a Bahia: “Ela causou tanto um impacto ambiental como espiritual irreversível porque inundaram a Cachoeira de Itaparica, onde enterrávamos nossos antepassados, onde fazíamos nossos rituais. É uma parte da nossa história que ficou debaixo d’água”.
O grupo indígena dedica atenção à transição energética com justiça socioambiental crítica ao modelo de implantação das energias renováveis porque é diretamente atingido por um complexo de energia eólica e solar (primeiro híbrido do Brasil), localizado em Tacaratu, a 50 metros do Território Pankararu.
Alexandre explica: “Há cerca de sete anos nós sofremos outro impacto com a grande obra do primeiro parque híbrido de energia eólica e solar a 50 metros do território entre Serras Pankararu, onde eles desmataram uma grande área. Acabou o caroá, do qual fazíamos nossas vestimentas para os nossos rituais, mais um impacto cultural e espiritual para nós. Então não entendemos que essa forma de captação e de distribuição de energia seja uma energia limpa. É diferente desse processo que nós estamos fazendo no Museu Solar, que está produzindo energia limpa. Porque usamos telhados solares num local que já está construído. Não vamos desmatar. Não vamos degradar o meio ambiente, não vamos queimar nada, inundar nada. Vamos usar espaços que já estão em pé para produzir essa energia limpa e renovável”.
Alexandre Pankararu caminha ao lado dos tijolos para a construção do Museu Solar, um marco na luta pela produção de energia de forma descentralizada e justa para as comunidades tradicional do São Francisco | Foto: Alice Sales
Uma pequena casa antiga da aldeia em Jatobá será o ponto de partida para a construção do segundo Museu Casa Solar dos Pankararu, uma extensão do projeto lançado na Aldeia de Tacaratu, que apresenta o primeiro fornecimento de energia solar autônoma daquela comunidade indígena. O objetivo é que seja também um espaço de convivência e de recepção de turistas. “Nós já temos um museu, escola e a casa de memória lá na Aldeia Brejo dos Padres, em Tacaratu. Aqui vai ter muita visita por conta do histórico de luta”, afirma o vice-cacique Sarapó.
A Casa de Memória Tronco Velho, em Tacaratu, não é abastecida por uma rede elétrica estável e havia perdido diversos aparelhos necessários para sua organização interna. O painel solar autônomo proporciona uma estabilidade energética para o funcionamento integral da casa, que também funciona como sede principal da organização indígena.
Ao falar em energia, o vice-cacique Sarapó reafirma que, para ser verdadeiramente limpa, não pode provocar mais desmatamento e que uma solução é a utilização dos telhados: “Estamos trazendo o Centro de Formação e o museu para essa aldeia. Ele não vai gerar impacto nenhum porque nós já temos o local e a energia que é do Sol. É Deus quem dá energia durante o ano todo. Aqui é reconhecido pelo Estado de Pernambuco como a potência da energia renovável, a energia da água, pela Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, energia solar, energia eólica. Nós estamos numa região beneficiada por isso, por ter essas energias. Só que não somos beneficiados ainda. Nós temos energia hidrelétrica na nossa comunidade, mas passamos três meses sem ter fornecimento.”
E finaliza: “quando falta energia eles não vêm arrumar porque não pagamos ainda. Eles não regularizaram. Não é um problema nosso. Eles colocaram na justiça e estamos esperando quando é que vai ter um acordo, até porque eles também passam com a rede de transmissão dentro do nosso território. O desmatamento teve todo um impacto e eles nunca resolveram isso”.
Agencia Eco Nordeste/Maristela Crispim Foto Alice Sales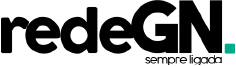











0 comentários