
Um dos assuntos mais comentados da semana e que não fugiu até mesmo aos olhos e ouvidos daqueles que pouco consomem notícias envolveu a proibição – bem como o recolhimento da menor em um abrigo – para que uma menina de 11 anos de idade realizasse aborto após uma gravidez contraída por ser vítima do crime de estupro, decisão proferida pela juíza Joana Ribeiro Zimmer, magistrada em Tijucas-SC.
O fato chegou ao conhecimento da juíza depois de a criança e sua mãe terem o procedimento negado por um hospital da região, que afirmou que as normas do estabelecimento permitiam que o aborto fosse realizado somente até a 20ª semana de gravidez – e a menina estaria na 22ª semana.
Antes de adentrar o mérito a respeito da revitimização da mulher (no caso, de uma criança) quando vítima do crime de estupro, é de extrema importância que se esclareça que o estado brasileiro, por lei, admite a realização do procedimento de aborto, em duas situações: a) quando não há outro meio de salvar a vida da gestante (art. 128, inciso I, do Código Penal); e b) se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal (art. 128, inciso II, do Código Penal). O STF estendeu a possibilidade de descontinuação da gestação quando o feto é anencéfalo (ADPF 54).
O caso em questão se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 128, inciso II, do Código Penal, não havendo, ao contrário do que foi apontado pela magistrada ou pelo hospital que atendeu a vítima, uma data limite para a concretização da interrupção da gravidez.
A opção feita pelo legislador de não fixar uma data limite para realização do aborto nessas situações é acertada, especialmente porque na maioria das vezes a mulher/criança vítima do crime de estupro vive um processo de revitimização (que é a perpetuidade do sofrimento mesmo após o fim da violência originária), promovido pela própria família (porquanto o agressor é, comumente, alguém próximo da vítima) e passando por diversas instâncias, sendo reproduzido por quem deveria oferecer a proteção, como na circunstância aqui tratada.
Na audiência em que a vítima foi ouvida pela juíza Joana Ribeiro Zimmer e pela promotora Mirela Dutra Alberton (que sequer deveria ter acontecido, já que não há necessidade de autorização judicial para realização do procedimento), a criança foi submetida ao terror psicológico de ouvir sobre o que o "pai" do feto pensaria sobre a interrupção da gravidez e a questionamentos como se ela gostaria de escolher o nome do feto ou se aguentaria levar a gestação adiante "mais um pouquinho" – mesmo com um parecer médico apontando os riscos gestacionais à vítima.
Não bastasse a criança ser vítima de violência sexual (o que, por si, é um trauma insanável), teve de levar adiante uma gravidez resultante do crime, ser separada de sua família e enfrentar violência psicológica pelos órgãos estatais que deveriam protegê-la, colocando em risco sua vida. Uma criança de 11 anos de idade.
No 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgado que, apenas no ano de 2018, o Brasil teve 66 mil vítimas de estupro. Desse total, 53,8% (ou seja, mais da metade) dos crimes tiveram como vítimas meninas de até 13 anos (o que, segundo estatística da pesquisa, aponta que quatro meninas são estupradas por hora em nosso país).
Estes dados, somados às condutas da juíza Joana Ribeiro Zimmer e da promotora Mirela Dutra Alberton, tanto nos autos quanto em audiência em que a vítima foi ouvida, demonstram que o estado brasileiro está longe de cumprir o estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), mormente no que tange aos deveres estipulados no art. 4º ("É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária").
É passada a hora de o Estado e as autoridades brasileiras, assim como a sociedade civil, deixarem de se preocupar apenas com o feto e valorizarem efetivamente a vida, a saúde e a segurança das mulheres (e das crianças) que já nasceram, que são submetidas às mais diversas violências a todo tempo, relembrando sempre que: criança não é mãe, estuprador não é pai.
Larissa Graebin é advogada, sócia do escritório Passinato & Graebin Sociedade de Advogados, tendo atuado na área criminal por 3 anos como assessora de Desembargador.
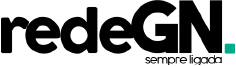










0 comentários