
Ontem, eu e Raquel, minha companheira das trilhas desse mundo, realizamos o que, durante a longa quarentena da pandemia, batizamos de Mini São João. Acontece que, cumprindo a missão de não se expor ao vírus e nem ajudá-lo a circular, nos detemos em casa por um longo período, que acabou por abarcar dois ciclos juninos. Se não existissem tantos prédios, da minha janela, junto à qual escrevo esse texto, eu veria a igreja de Santo Antônio, aqui em Vila Isabel, no alto de sua colina, como se nem houvesse mundo em volta.
Por dois anos, pois, deixei de subir sua escadaria de cento e oitenta e tantos degraus, para assistir à missa e curtir a festa de 13 de junho, olhando, com um pote de caldo verde na mão, o bairro espalhado abaixo de nós, com suas janelas acesas como pequenas fogueiras, pequenos oratórios.
Longe da igreja, dos terreiros iluminados, restou-nos, ainda bem, reinventar a festa em nossa casa mesmo. E é assim que funciona: Vamos pra cozinha, acendemos o fogão e assamos milho, salsichão, fazemos um caldo quente, forte, de preferência com linguiça ou paio, ou os dois, e pimenta. Pode ser de batata, inhame ou macaxeira. Pode ter couve, pode ter brócolis. Fazemos um vinagrete e uma farofa pra acompanhar o salsichão e passamos a noite bebendo vinho tinto e escutando Luiz Gonzaga. Foi tal o sucesso da empreitada que extrapolou o período junino. A esse expediente recorremos sempre que julgamos necessário, seja qual for a época do ano. É uma gaveta que abrimos e dela sai o São João, as ruas se preparando para as quadrilhas, o ronco do fole, as estrelinhas e busca-pés, toda a história de um povo a nos embalar. Uma gaveta que abrimos quando urge a saudade da terra ou quando se faz necessário abrir no fim do dia uma felicidade.
Estávamos ontem a comer salsichão e escutar Luiz Gonzaga, quando emergiu da caixinha bluetooth a melancolia de Juazeiro.
Juazeiro, Juazeiro
Me arresponda, por favor
Juazeiro, velho amigo
Onde anda o meu amor
Ai, Juazeiro
Ela nunca mais voltou
Diz, Juazeiro
Onde anda meu amor
Juazeiro, não te alembra
Quando o nosso amor nasceu
Toda tarde à tua sombra
Conversava ela e eu
Ai, Juazeiro
Como dói a minha dor
Diz, Juazeiro
Onde anda o meu amor
Juazeiro, seje franco
Ela tem um novo amor
Se não tem, porque tu choras
Solidário à minha dor
Ai, Juazeiro
Não me deixa assim roer
Ai, Juazeiro
Tô cansado de sofrer
Juazeiro, meu destino
Tá ligado junto ao teu
No teu tronco tem dois nomes
Ela mesmo é que escreveu
Ai, Juazeiro
Eu num guento mais roer
Ai, Juazeiro
Eu prefiro inté morrer
Ai, Juazeiro
Na música acompanhamos a conversa molente de Gonzaga com o pé de juá, sobre esse amor perdido, essa moça da qual já não se sabe mais. “Toda tarde à tua sombra / Conversava ela e eu“. O Juazeiro, velho amigo, testemunha do namoro sertanejo, certamente pudico, não tem respostas. Seu tronco, riscado com os nomes dos amantes, sustenta a copa verde e vasta, sustenta mesmo a própria sombra, e os que nele se recostam, para cochilar, para pensar nesse mundão, para amar escondidos. Gira ao redor do Juazeiro o remoinho das acontecências. Partem os amores, voam os anos e os seres. A única consistência é o Juazeiro. Só a quem se pode recorrer nesse mundo de transformações. Disse eu, acima, que não tem respostas, o Juazeiro, para a angústia do namorado abandonado. Sua resposta é sua sombra, acolhedora.
Pusemo-nos a pensar sobre esse anseio nordestino pela sombra. E sobre o papel central da árvore nos ciclos tantos que nos regem. Amor e perda. Vida e morte. Há muitos sentidos em descansar à sombra de uma árvore. Muitos augúrios também. E foi com essa palavra, augúrios, que lembrei de outra árvore. Outra poesia. Debaixo do tamarindo, do poeta paraibano Augusto dos Anjos, constante do seu único livro publicado em vida, Eu.
No tempo de meu Pai, sob estes galhos,
Como uma vela fúnebre de cera,
Chorei bilhões de vezes com a canseira
De inexorabilíssimos trabalhos!
Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos,
Guarda, como uma caixa derradeira,
O passado da Flora Brasileira
E a paleontologia dos Carvalhos!
Quando pararem todos os relógios
De minha vida e a voz dos necrológios
Gritar nos noticiários que eu morri,
Voltando à pátria da homogeneidade,
Abraçada com a própria Eternidade
A minha sombra há de ficar aqui!
No poema, Augusto chora a morte do pai junto ao tamarineiro, uma árvore familiar (Guardando a paleontologia dos Carvalhos) , ancestral. Assistiu ir e vir de gerações. A ascensão e a desagregação dos engenhos, das casas grandes. Naquela mesma sombra teria sentado o pai do poeta. E agora, da mesma sombra, ele recolhe poemas e chora o pai em biliões de lágrimas. Quando você chega sob a copa de uma árvore, sua sombra se mistura a dela, e Augusto arrastou sua sombra fúnebre até ali, numa simbiose que a morte há de asseverar.
Duas árvores, duas sombras, duas perdas. O amor e a morte, não como espelhos, mas como amálgama. Essa palavra, ouvi hoje uma canção de Zé Ramalho… És a amálgama da minha couraça. De repente me veio esse pensamento que em Zé Ramalho se amalgamam Augusto dos Anjos e Luiz Gonzaga, sob a lamparina alucinada de Zé Limeira. Coisas pra se conversar, não é mesmo?!
Para encerrar esses assuntos, recordo outra canção que escutamos ontem, no nosso Mini São João. A nostalgia da infância de Estampas Eucalol, na voz de Xangai, naquele belíssimo disco, Cantoria 2 (Com Elomar, Geraldo Azevedo e Vital Farias), evoca outra árvore, mais uma sombra, nos versos: Viajava o mundo inteiro / Nas estampas Eucalol / A sombra de um abacateiro / Ícaro fugia do sol. Talvez o mesmo abacateiro de Gilberto Gil, nessa rede de conexões afetivas que a gente vai percebendo de uma música pra outra, de um poema pra outro, enquanto celebramos um São João fora de época, ou fora do tempo, no recanto da nossa cozinha.
Toinho Castro-escritor/Kuruma’tá é uma revista online de culturas e afetos
Toinho Castro-escritor/Kuruma’tá é uma revista online de culturas e afetos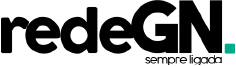











0 comentários