.jpeg)
Uma das principais inovações do primeiro código eleitoral do Brasil, instituído em 1932, a conquista do voto feminino, fruto da pressão de movimentos sufragistas e, ao mesmo tempo, de interesses políticos do governo provisório de Getúlio Vargas, completou 90 anos sem que o país tenha superado a baixa representação feminina em cargos legislativos e executivos. Além de permitir o voto, a mudança abriu portas para que mulheres se lançassem candidatas.
O novo código definiu como eleitor o “cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo”, mas estabeleceu que o voto feminino não era obrigatório para mulheres sem renda.
O direito pleno à participação, equiparado ao do homem, só foi obtido em 1965, ressalta a historiadora Angela de Castro Gomes, da Universidade Federal Fluminense (UFF), que explica que a voluntariedade garantiu aos homens poder para decidir se as mulheres com quem se relacionavam exerceriam o voto.
— Há um corte de gênero, em que os homens têm voto obrigatório e as mulheres têm voto facultativo, o que significou uma porcentagem menor de mulheres votando. E ainda há uma perspectiva de pensar a família como uma unidade em que a cabeça é o homem. Havia um discurso de oposição ao voto feminino, de que as mulheres que votavam eram um risco à família, porque estariam se afastando das obrigações domésticas.
O tema já havia sido alvo de projetos de lei ao longo da Primeira República e de debates públicos na imprensa, antes mesmo de a Nova Zelândia se tornar o primeiro país a prever o direito ao voto feminino em 1893 — as propostas, no entanto, foram rejeitadas. No Rio Grande do Norte, uma lei instituída em 1927 permitiu que mulheres se alistassem. No pleito do ano seguinte, 20 participaram da votação, entre elas Celina Guimarães Vianna, mas seus votos foram considerados “inapuráveis” pela Comissão de Poderes do Senado.
— Já havia discussão, e a questão já estava posta antes. Não apareceu do nada no código. Em 1910, a figura de Leolinda Daltro já aparece no espaço público, na imprensa, com outras mulheres, com a solicitação de estender o direito de voto a todas as brasileiras, no mesmo momento em que ocorriam mobilizações do movimento de sufragistas na Inglaterra — lembra Mônica Karawejczyk, professora da PUC-RS e autora do livro “Mulher Deve Votar? O Código Eleitoral de 1932 e a Conquista do Sufrágio Feminino”.
Na primeira eleição com participação de eleitoras, a médica paulista Carlota Pereira de Queirós foi a única eleita deputada para a Assembleia Nacional Constituinte, na legenda da Chapa Única por São Paulo. Dos 1.041 candidatos, apenas 19 eram mulheres, entre elas estava Leolinda Daltro, fundadora 22 anos antes do Partido Republicano Feminino, dedicado à emancipação feminina.
Também pioneira na luta pelo direito ao voto, Bertha Lutz foi a segunda mulher a ocupar uma vaga no Parlamento brasileiro. Ela obteve a primeira suplência e acabou assumindo o mandato em julho de 1936, devido à morte do titular. Única mulher a votar na Assembleia Nacional Constituinte como delegada classista, grupo que representava categorias profissionais, a sindicalista negra Almerinda Farias Gama também disputou o cargo de deputada federal, mas não foi eleita.
Professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), Jaqueline Zulini propõe outra visão sobre as motivações para a inclusão de mulheres entre os eleitores. A mudança foi acompanhada de outras reformulações, como a criação da Justiça Eleitoral e a introdução do voto secreto. Ela defende que é inegável a importância histórica de um código que se torna um pacote de reformas amplas com inovações institucionais. Por outro lado, pondera, tratou-se de uma agenda outorgada na vigência de um governo autoritário com poderes discricionários que pensava em se reconduzir ao poder e ter uma legitimação por meio das urnas.
— Não deixa de ser uma conquista, mas pesquisas chamam atenção para o fato de que a adoção do voto feminino é pautada em ambientes de revisão das regras do jogo em que há uma tentativa de se incorporar um eleitorado que é conservador. A mulher era vista como um eleitorado estratégico. O governo provisório via na incorporação das mulheres uma chance de conseguir se fazer eleito durante as eleições constituintes de 1933 — diz Zulini.
O historiador Raimundo Helio Lopes, do Instituto Federal Fluminense, destaca um contexto mais amplo de expectativas sobre o fim da Primeira República e de crítica ao período anterior, marcado por interferências de oligarquias locais e fraudes, ainda que essas práticas tenham permanecido após o novo código eleitoral.
— Havia uma demanda para mudanças das regras eleitorais e do alistamento. Nessa conjuntura, coexistiram projetos distintos de constitucionalização. Vargas nessa época teve que se equilibrar entre os projetos — avalia Lopes.
Passados 90 anos, as mulheres são mais de 52% do eleitorado, mas a eleição de representantes para cargos públicos permanece um desafio. Na disputa de 2020, 17% dos municípios não elegeram vereadoras. Em outros 21%, apenas uma se elegeu. Nas câmaras municipais, elas somam apenas 16% dos assentos. O percentual se repete no Congresso Nacional, onde tem crescido lentamente ao longo das últimas décadas — especificamente na Câmara, o patamar é de 15%.
Desde 2009, os partidos são obrigados a lançar ao menos 30% de candidaturas femininas. Já a exigência de repasses proporcionais de recursos ao percentual de candidaturas só ocorreu a partir de 2018. A cientista política Débora Thomé, pesquisadora da UFF, enfatiza que as barreiras que dificultam a maior presença de mulheres nos parlamentos estão nos partidos, que têm poder de definir em quais candidaturas vão investir mais:
— Os partidos controlam as verbas e distribuem mal os recursos, colocam, em geral, dinheiro em campanhas de mulheres que já têm chance de se eleger, e não se consegue aumentar mais o percentual de eleitas. Passamos de uma deputada para 77 deputadas em 90 anos. Ainda é muito pouco.
O Globo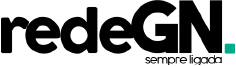












0 comentários