.jpg)
Não poderia haver título melhor para estas linhas em que nos deteremos sobre as já saudosas casas de farinha. A frase é de um cantador do sertão que ouvi nos meus dias de menino. Ah, as casas de farinhas!
Poderíamos dizer que a vida no sertão começava na quadra da farinhada. Para a casa de farinha se voltavam todas as atenções, transformando-se a mesma num pólo aglutinador de pessoas advindas dos mais diferentes rincões. Famílias inteiras mudavam-se para lá, onde se demoravam por dias e até semanas, o tempo que fosse necessário para dar por pronta a cobiçada iguaria.
A festa começava ainda na roça, na arranca da mandioca. Sim, a festa, porque aquilo não era trabalho. Parecia mais um folguedo, regado a pinga boa e animado por acaloradas cantorias. As arrancas eram disputadíssimas e possuíam caráter de evento social, com agenda previamente estabelecida. Assim se evitava que duas arrancas acontecessem ao mesmo tempo. Era a festa da mandioca. Dela participava a vizinhança toda, sem contar os que vinham de mais longe.
Acomodadas em caçuás e transportadas no lombo de jumentos, as raízes chegavam à casa de farinha, onde eram aguardas por rapadeiras habilidosas. As facas entravam em ação, num chichiar contínuo e cadenciado. Em pouco tempo, livre da casca, o produto repousava branquinho, pronto para a “desmancha”. Lá fora, a panela borbulhava. Era o rango sendo preparado. Havia muitas bocas a alimentar. No cardápio, feijão com jabá e pé de porco.
E a festa prosseguia, cada um fazendo de um tudo: rapar, ralar, prensar, peneirar, enfornar, ensacar; eis a linha de produção. Recolhida em cochos ou gamelas, a manipueira fornecia a alvíssima tapioca posteriormente transformada nos alvíssimos beijus, que eram servidos no desjejum, com café quente, da hora. A cada passo, a cada processo, as pessoas iam se revelando mais qualificadas nas tarefas de que eram incumbidas. Homens feitos, mulheres e meninos, todos atuando com habilidade extraordinária. Não era pra menos; o ofício é antigo; vem de eras imemoráveis; os nativos já o faziam. O Brasil, aliás, nasceu sob o signo da farinha. Foi ela seu primeiro sustento; um maná dos deuses a forjar uma nação inteira.
A casa de farinha não era só uma casa de farinha. Era uma indústria de saberes, de afetos, de poesia. Vivia ela da solidariedade, da cooperação, da ajuda mútua. Sua lógica era a do mutirão, do trabalho conjunto que forma fraternidade. Era o jeito bíblico e conselheirista de conceber a vida, de gerar sociedade. Sua produção tinha como fim o consumo familiar, comunitário, sem visar o lucro cego, fruto da ambição mercantilista.
A casa de farinha modelou a cultura sertaneja. Estabeleceu formas de convivência. Fixou canais de interação. Uniu. Aproximou. Estreitou laços. Era lugar de encontro. De ajuntamento. De confraternização. Por ali circulavam informações; trocavam-se experiências; construíam-se novas relações. Ali contavam-se histórias de trancoso, liam-se folhetos de cordel, cantava-se a moda da terra. Vez ou outra, aparecia um sanfoneiro para animar a festa. Quando isso acontecia, o forró ia noite adentro. No terreiro, crianças brincavam de roda, livres da chatice dos mais velhos.
À noite, à boca do forno, juntava-se a rapaziada toda. Era chegada a hora da paquera. Muitos iam à casa de farinha com o intuito de namorar. E namoravam. Não foram poucos os casamentos nascidos ali, ao crepitar das brasas em chama.
Veio a mecanização e afastou o que havia de mais precioso. A casa de farinha já não é mais a mesma. Perdeu o encanto de outros tempos. Despida de poesia, de afeto e de calor humano, hoje não passa de uma ruína, perdida em meio à capoeira, como se fora um fogo morto.
José Gonçalves do Nascimento
[email protected]..

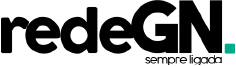




(1)(19)(89).jpg)


.jpg)
.jpg)

.jpg)

.jpg)






.jpg)







