
Final do século dezenove. No rastro de antigos missionários, e conduzido pela estrela do Bendegó, um homem cruza os sertões em busca da terra anunciada. Pouco tempo havia desde que a república fora proclamada, quando Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, chegou ao arraial de Canudos para dar início à sua saga redentora. A notícia fez com que famílias inteiras deixassem tudo para trás a fim de se juntar ao profeta.
O sertão quase que esvaziou. As fazendas fecharam suas porteiras. As cercas despencaram e não havia mais quem as erguesse. Os engenhos viraram fogo morto e agora não passavam de uma triste lembrança na crônica sertaneja. Os ferros que antes davam forma às correntes transformaram-se todos em arados. Negros, índios, vaqueiros, gente do eito, antigas escravas, parteiras, benzedeiras, professoras, poetas, beatos, menestréis, toda essa enxurrada de gente arribou em massa para a aldeia sagrada. Em pouco tempo Canudos já era a maior vila do sertão. Desesperado, um barão daquelas terras escreveu no jornal, queixando-se da falta de braços nos seus alargados domínios.
Mais do que o paraíso utópico dos contos antigos, Canudos era a realização do sonho de liberdade desde muito fomentado pelos filhos do sertão. Era a Canaã prometida, a terra sagrada onde jorrava leite e mel. A fortaleza segura que a todos protegia e amparava. O doce regaço a refrescar os corpos cansados nas tardes longas de fadiga.
O Vaza-barris, generoso, desmanchava-se em verdejantes vales, onde tudo brotava com fartura. Milho, feijão, fava, batata, jerimum, até cana de açúcar crescia bonitona por aquelas bandas. A terra era de todos, não havia cerca, nem senhor. Seus supostos donos andavam a enlamear-se na areia fria da praia. Tinham outras preocupações. Visavam às cifras, às siglas, às urnas. Não queriam largar a gamela palaciana. Viviam fuçando os cofres oficiais, ávidos de mais privilégios.
Enquanto isso, o sertão florescia e um novo mundo se desvendava; despido da sua sisudez habitual, o deserto se recobria com o verde do alecrim e do mandacaru; os celeiros se enchiam de semente nova; as cacimbas, outrora esturricadas, dessa vez regurgitavam de tão cheias; no alto dos morros, nas colinas, por toda parte, animais pastavam tranquilamente; os antigos currais davam lugar às roças de milho verde, enquanto o lavrador virava senhor de si, não sendo mais obrigado a oferecer a força do seu braço em troca de alguns poucos vinténs.
A terra, os campos, a criação, a água dos rios, os peixes, os paióis de feijão, tudo ali era de todos; os dias de bonança, a comida farta na mesa, o leite, o pão, o cuscuz, tudo nascia da união fraterna e solidária dos amigos do beato; a república, o governo não davam as caras por lá; aliás, para o governo aquela gente sequer existia; não tinha nome, nem identidade; vivia noutra terra, noutro país.
O peregrino era a luz que alumiava a escuridão do deserto; um cavaleiro da esperança a abrir caminhos nunca antes transitados; um anjo rebelde a desafiar o status quo da velha política que há séculos afundava o sertão no vale tenebroso do analfabetismo; sua palavra era espada afiada contra a ira do mundo; contra o pecado institucionalizado da pilhagem do bem público por parte dos ricos, que ficavam cada vez mais ricos, em prejuízo dos pobres que ficavam cada vez mais pobres; contra o descaso, a inércia, a má-fé da promíscua e parasitária máquina governamental, responsável pela eternização da miséria e do atraso; contra o moralismo insano e estúpido dos padres, que apontavam nos pobres todo tipo de pecado, mas que viviam ora a lambuzar-se nos braços das concubinas, ora a refestelar-se nas mesas dos coronéis.
Seu Evangelho se assentava na tolerância, na mansidão, na brandura. Não condenava, libertava. Não atirava pedras, acolhia. Não recorria às leis do inferno para amedrontar e prevenir; do contrário, evocava a beleza de Deus para instruir e ensinar. Unindo o céu e a terra, sua catequese vislumbrava já neste mundo o reinado que os clérigos, comodamente, anteviam apenas no além-túmulo. Seu apostolado, ao tempo em que esmagava serpentes, também construía pontes, cavava açudes, abria estradas.
Tudo ia muito bem até a que das profundas da escuridão sem fim, o dragão da maldade levantou sua cauda terrível, espalhando fogo no sertão. Agora sim, a república, o governo por lá apareciam. Só que ao invés de lápis e caderno, levavam fuzil e baioneta. A reforma agrária, sonhada, era substituída pelo troar da “matadeira”. A liberdade, a bem-aventurança, a alegria do viver, dessa vez davam lugar à dor, à tristeza, à desolação. Tudo isso em nome de Deus, da ordem, da pátria e dos "bons costumes".
Foi assim que a noite baixou sobre o sertão, abrindo as cortinas da morte e encerrando a poesia no túmulo da estupidez; de repente, o céu brilhou em Canudos e do alto da serra do Cocorobó soou uma trombeta luminosa, anunciando que o Conselheiro ressuscitara.
Por José Gonçalves do Nascimento
Por José Gonçalves do Nascimento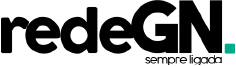











5 comentários
28 de Sep / 2017 às 23h07
UÉ? CADÊ O ARTIGO DO PROFESSOR ALOPRADO OTONIEL GONDIM: DOIDINHA PARA ACABAR COM AS MELOSAS ELOGIOSAS A LULA, COMUNISMO E ATEÍSMO. VEM AINDA, GERALDO?
28 de Sep / 2017 às 23h07
UÉ? CADÊ O ARTIGO DO PROFESSOR ALOPRADO OTONIEL GONDIM: DOIDINHA PARA ACABAR COM AS MELOSAS ELOGIOSAS A LULA, COMUNISMO E ATEÍSMO. VEM AINDA, GERALDO?
29 de Sep / 2017 às 07h58
Bom texto.Bom historiador. Precisamos mesmo resgatar essa cultura do passado de resistências. O que pedem, eu me incluo, ao professor e escritor Otoniel Gondim não é muito. Apenas que o mesmo seja mais presente ao Blog e aos seus leitores. Vem hoje ele, Geraldo José? Queria ver análises nacionais na política por ele. Aceitaria de bom grado, também, Otoniel, caso viesse sobre o governo de Paulo Bomfim-Isaac Carvalho. Um bom dia.
29 de Sep / 2017 às 09h33
Parabéns, é preciso falar as gerações mais novas esse episódio da nossa história que até hoje forças do "moral e dos bons costumes" teimam em deixar embaixo do tapete da verdade. Há outros em nosso Nordeste, a guerra do 'Pau de Colher', a Batalha do Jenipapo no Piauí que não estão nos livros de História. Vejo com bons olhos a iniciativa de contar em poucas palavras como era a situação, porem é preciso estender o texto para falar do contexto político e econômico que circundava Antonio Conselheiro e Canudos. Mas PARABÉNS pela visão e clareza do texto!
29 de Sep / 2017 às 09h35
Parabéns, é preciso falar as gerações mais novas esse episódio da nossa história que até hoje forças do "moral e dos bons costumes" teimam em deixar embaixo do tapete da verdade. Há outros em nosso Nordeste, a guerra do 'Pau de Colher', a Batalha do Jenipapo no Piauí que não estão nos livros de História. Vejo com bons olhos a iniciativa de contar em poucas palavras como era a situação, porem é preciso estender o texto para falar do contexto político e econômico que circundava Antonio Conselheiro e Canudos. Mas PARABÉNS pela visão e clareza do texto!