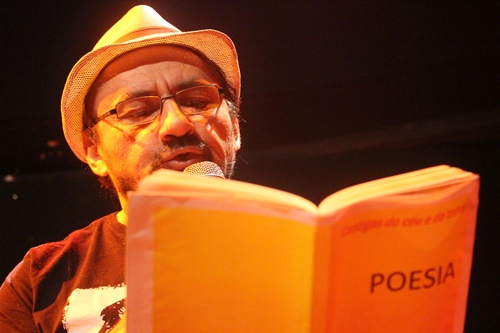O IRMÃO ANTÔNIO (Conto)
A cidade ainda dormia. Melhor: poderia está ainda dormindo, não fosse o menino da matraca que desde o miudar do galo intimava os crentes para a oração matutina que começaria logo mais. O lombo da serra, com suas casinholas brancas, solenemente distribuídas, começava a despontar. O moço da prefeitura, de uniforme branco, chegava para apagar o último bico de luz que ainda se mantinha aceso na praça grande e deserta. No céu, uma revoada de pardais quebrava por alguns instantes a quietude do silêncio. Talvez quisessem saudar os raios do sol que logo logo começariam a romper. Não tardaria muito, e o sineteiro executaria os primeiros dobres do sino, emprestando ao ambiente a cerimônia que a ocasião exigia.
Irmão Antônio chegou ao romper do dia daquela Sexta-feira Santa. Viera de longe, os pés calejados, o corpo coberto de poeira. Parou em frente à matriz, que ainda se mantinha fechada, ajoelhou-se, fez o sinal da cruz e rezou. Em seguida, olhar fixo, sereno, compenetrado, surrão sobre as costas, dirigiu-se ao Tangue da Nação, apeou, e montou acampamento. Bebeu água numa cuia, comeu o último pão que lhe restara da viagem, e descansou. Precisava recobrar sustança, física e espiritual, para a jornada que prometia ser muito intensa. Viera para pregar.
A Sexta-feira da Paixão era, ali, o dia mais esperado do ano; era a síntese de todas as comemorações. Nela, a fé religiosa e o sentimento pátrio adquiriam a mesma significação. Juntos, sagrado e profano dividiam o mesmo altar na solene e festiva liturgia. A data era o símbolo da unidade, da convergência, do congraçamento. Todos se viam nela e por meio dela. A cada ano, a cidade se atapetava de gente vinda de todas as partes. Chegavam de pau-de-arara, carroças, animais, ou mesmo a pé. Eram homens, mulheres, crianças, gente enferma, pagadores de promessa, caixeiros viajantes, vendedores de passarinhos, mascates, cantadores, violeiros, retratistas, benzedeiras, cartomantes, adivinhos, garrafeiros, bebedores de cachaça, esmoleres, todos reunidos no mesmo mutirão de encantamento.
À tarde, quando o sol começou a pender, e o sino da matriz deu as primeiras badaladas, Irmão Antônio, que passara a manhã inteira em meditação, irrompeu na grande praça, onde uma multidão aguardava devotamente. Tinha cabelos e barbas crescidos, já um tanto agrisalhados, envergava um hábito marrom, cingido por um alvo e grosso cordão, e calçava alpercatas de couro, tipo as de vaqueiro. Numa das mãos o cajado, em que se apoiava, na outra, elevada ao peito, o livro das orações. Chegou, aproximou-se do altar, persignou-se, assomou à latada, posta ao lado do grande cruzeiro, e pregou:
– Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! – saudou.
– Para sempre seja louvado tão Bom Senhor! – responderam.
– Meus irmãos, – prosseguiu – uma voz gritou no deserto, chamando pela Luz; e a Luz alumiou o escuro do deserto; os corações aflitos ficaram inebriados com o mel que jorrou da fonte da vida; o mundo todo se encheu de fartura e a beleza brotou do ventre da terra; as moléstias calaram a voz para sempre; a dor que doía na gente virou nuvem e voou; os montes e as florestas dançaram ao som da brisa matutina; as correntes se derreteram e viraram pão; as cercas ruíram, os cabrestos se quebraram, e os animais puderam pastar sem atropelo; a liberdade virou passarinho e veio morar perto da gente; os rios se regurgitaram de água doce, matando a sede que não tinha fim; as roças se encheram de espigas de milho verde; os campos se vestiram de amor e os bem-te-vis cantaram uma canção de contentamento; mas um dia, o dragão da maldade, que era dono da fé e do ouro, teve muito medo e mandou prender a Luz; e a Luz foi castigada, apagada, humilhada, silenciada.
Parou, sacou do bolso do hábito um lenço encarnado, enxugou o suor que escorria no rosto, e continuou:
– Pois bem; ontem como hoje, os dragões da maldade vivem à espreita da luz; trabalham no silêncio da escuridão, como monstros medonhos, terríveis; são os espíritos da cegueira, que nunca viram o fogo do amor, que é onde mora a semente da paz; vivem fuçando nos palácios cinzentos; nas mansões subterrâneas; nos templos sem portas e sem janelas; no mundo do lucro desonesto; dormem nos cassinos, farreando a noite toda com o dinheiro que ganharam na exploração do trabalho alheio; se comportam como os senhores do bem, aparecem no jornal, na televisão, nos banquetes; vivem de derramar o veneno da maldade no leito dos mais pobres; maquinam contra os amigos da justiça, tomam as terras, matam os índios, segregam os negros; morrem de ódio ao povo e à poesia; falam o nome de Deus em vão, profanam contra o santo Evangelho e perseguem os missionários.
O sermão chegara ao final. Uma nuvem densa cobrira o sol, enquanto a multidão, contrita, se aproximou do altar. Era o momento do beija da cruz.
A cerimônia terminara, o sol ainda não se tinha posto. Os romeiros começaram a se recolher, uns indo pra suas casas, outros se abarracando nas carrocerias dos caminhões. Havia também aqueles que se aboletavam na matriz, à espera da vigília noturna.
Irmão Antônio deixara a praça em silêncio, pensativo, como se pressentisse alguma coisa. Ia ao encontro do velho surrão. Mas, ao se aproximar do local do acampamento, encontrou apenas as cinzas. O prefeito mandara queimar sua barraca.
Irmão Antônio não disse nada, não esboçou reação, apenas rezou. E, meditativo, passos lentos, desfiando um rosário, deixou a freguesia, tomando a estrada do norte. Era noite.
José Gonçalves do Nascimento - Escritor
© Copyright RedeGN. 2009 - 2024. Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do autor.