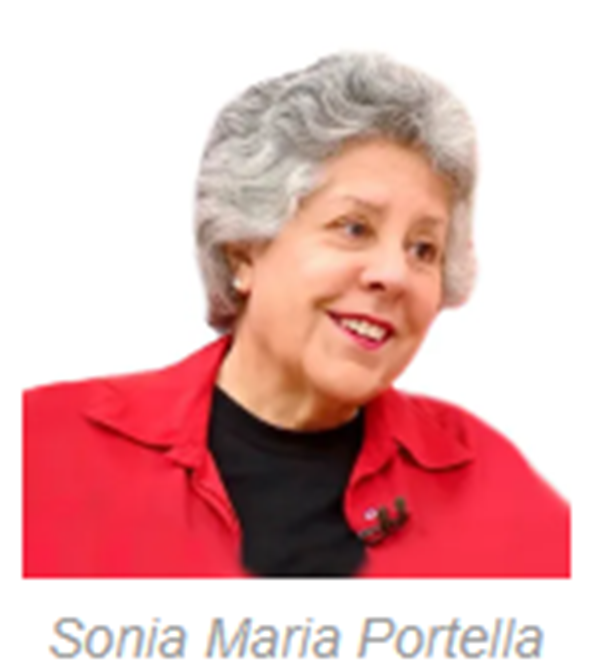
Desde 1946, o Brasil possui uma contribuição patronal voltada a suplementar os recursos públicos direcionados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.
Conforme a Constituição Federal daquele ano, em seu artigo 178, II, deveriam as empresas com mais de cem empregados: “manter o ensino para seus servidores e filhos destes”.
Durante a ditadura militar, o salário-educação, que surge formalmente por meio da Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964, é constitucionalizado em 1967 como medida substitutiva dessa obrigação criada em 1946.Por meio da mencionada lei, adota-se inicialmente um percentual a ser recolhido pelas empresas vinculadas à previdência social no montante de 2% sobre o salário-mínimo, em relação a cada empregado. No ano seguinte, esse percentual é alterado pela Lei nº 4.863, de 29 de janeiro de 1965, que foi regulamentada meses depois pelo Decreto nº 57.902, de 8 de março de 1965, o qual reformula tanto a alíquota, quanto a base de cálculo dessa contribuição. Sua base de cálculo passou a ser o valor total da folha dos salários recolhidos pelas empresas e a alíquota fixada foi de 1,4%.
Desse valor, conforme o mencionado decreto regulamentador, metade seria destinada como crédito do Fundo Estadual de Ensino Primário, para aplicação no próprio Estado, e a outra metade seria vinculada ao Fundo Nacional do Ensino Primário, para aplicação pela União em todo território Nacional, na busca de realizar uma distribuição mais equitativa aos estados mais pobres do país. No entanto, essa obrigação seria relativizada àquelas empresas que possuíssem mais de cem empregados e mantivessem ensino primário próprio, ou que distribuíssem bolsas de estudos aos empregados ou seus filhos, por meio de convênios firmados com escolas privadas.
Essa substituição da obrigatoriedade criada pela Constituição de 1946 somada à relativização dessa nova obrigação gerou um cenário pernicioso. Conforme destaca Fábio Konder Comparato: “Esses recursos iriam para os fundos, que os distribuiriam por meio de bolsas de estudo. Em torno da criação das bolsas de estudo, construiu-se uma das maiores falcatruas nacionais, o que era já previsível. Se ocorrem desvios de verbas com incentivos à agricultura, à indústria, por que não haveria desvio de verbas em matéria educacional? Inúmeras escolas fantasmas foram montadas, outras muitas multiplicaram os seus efetivos numa frenética produção de ‘almas mortas’ para se beneficiarem das bolsas de estudo”.
Essa contribuição, que já surge na ditadura militar com um propósito deturpado de substituir uma obrigação proposta constitucionalmente às empresas por outra que na prática retira direitos educacionais, determinou-se a partir de então como um dos principais mecanismos de financiamento da educação no país.
Na Constituição Federal de 1988, o salário-educação foi previsto originalmente no artigo 212, §5 como fonte adicional de financiamento do ensino fundamental público. A partir da Emenda Constitucional nº 53/2006, por meio da alteração desse parágrafo, passou essa contribuição a ser destinada à toda educação básica. Mas, mais do que isso, essa emenda adicionou ao artigo 212 o §6 que determina: “§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino”.
É sobre esse artigo que recai a discussão do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 188, no qual em 15 de junho 2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, por maioria de votos, que as cotas estaduais e municipais do salário-educação fossem integralmente distribuídas utilizando-se como critério apenas a proporcionalidade do número de estudantes matriculados de maneira linear.
Dessa forma, o STF deixou de considerar como um dos critérios para essa distribuição a proporcionalidade da arrecadação dos estados a título de salário-educação, que era até então considerado na metodologia do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo em vista que este critério não observaria como parâmetro, de maneira direta, a quantidade de matrículas na rede pública.
O argumento utilizado pelo STF é de que a Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, ao inserir o §6 no artigo 212 da Constituição Federal, determinou como critério para a distribuição dos recursos da contribuição social do salário-educação apenas o número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Dessa forma, não recepcionou a regra utilizada pelo FNDE que se baseia nas Leis nº 9.424/1996, 9.766/1998 e 10.832/2003.
Para além da interpretação jurídica do critério a ser adotado, que, de fato, se demonstra hermeneuticamente simples, dado que decorre de uma interpretação literal-gramatical por parte do STF do texto da EC nº 53/2006, que é objetivo no critério estabelecido, a questão remete a um problema maior, dado que, também objetivamente, a insuficiência de recursos destinados ao financiamento educacional faz com que o Poder Público necessite fazer uma escolha a respeito de quais municípios pobres serão financeiramente prejudicados nessa distribuição, se aqueles presentes nas regiões mais vulneráveis do país, especialmente o Nordeste, que dada a densidade demográfica era o mais prejudicado proporcionalmente pela regra anterior, ou se os municípios pobres das regiões ricas que, a partir de uma decisão judicial, terão significativa parcela dos seus recursos para o financiamento educacional comprometida.
Um caso concreto permite demonstrar o tamanho da fragilidade no financiamento educacional do país e a iminente necessidade de discutirmos com seriedade a efetivação do financiamento educacional. No Município de Suzano, conforme dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação, com a nova regra, o valor estimado para o Salário Educação em 2024, momento de início de vigência da decisão do STF, terá uma queda de aproximadamente 42%, relativamente ao ano de 2023. Essa regra decorre da redução do coeficiente de distribuição deste recurso, que passa de 0,0060 no ano base de 2022 para 0,0031 em 2023.
Essa redução se agrava pelo descumprimento de uma outra norma jurídica, a Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), que determinava até 2024 um percentual de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) destinado ao setor, mas que em 2022 atingiu apenas 6,37% do PIB. Caso essa norma fosse cumprida, significativa parte do efeito dessa redução seria mitigada, dado que é a insuficiência do financiamento educacional que faz com que os municípios vulneráveis tenham que equacionar a divisão dessa ausência de recursos.
Em tempos de arcabouço fiscal, ou de uma reforma tributária que busca interferir na regressividade especialmente da tributação sobre o consumo, tendo em vista a evidente vulnerabilidade do financiamento de um setor crucial para o funcionamento econômico, social e cultural do país, é nevrálgico colocarmos em centralidade a pauta do financiamento da educação, neste momento em que as tratativas para elaboração do novo Plano Nacional de Educação (2024 a 2034) começam a ser discutidas.
Por Sônia Portella Kruppa, professora da Faculdade de Educação da USP, Fábio Sampaio Mascarenhas, doutorando da Faculdade de Direito da USP, e Cintia Mara de Freitas, agente de Orçamento Público Suzano-SP
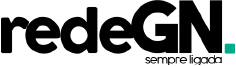













0 comentários